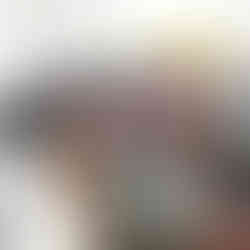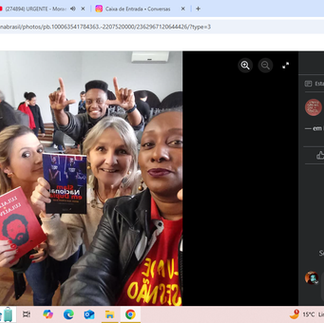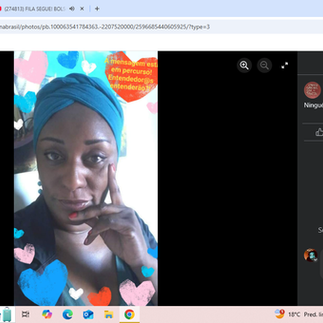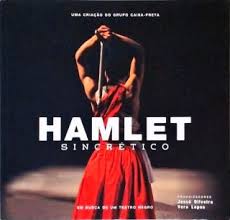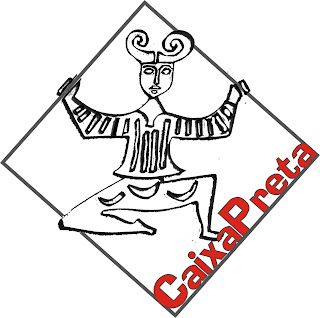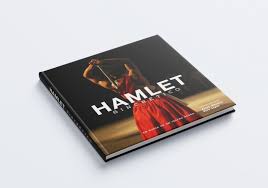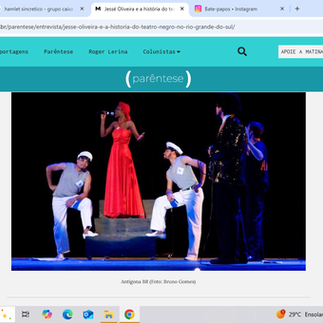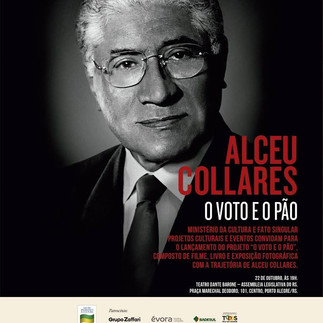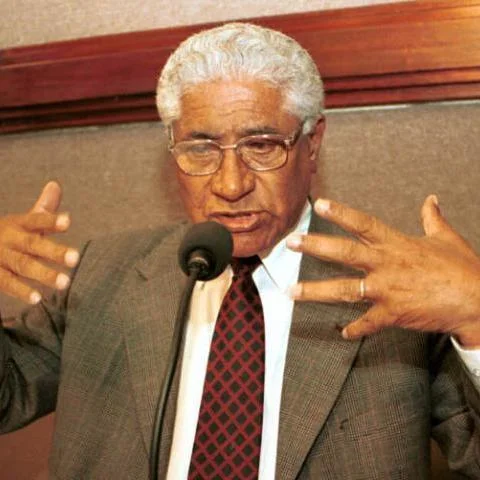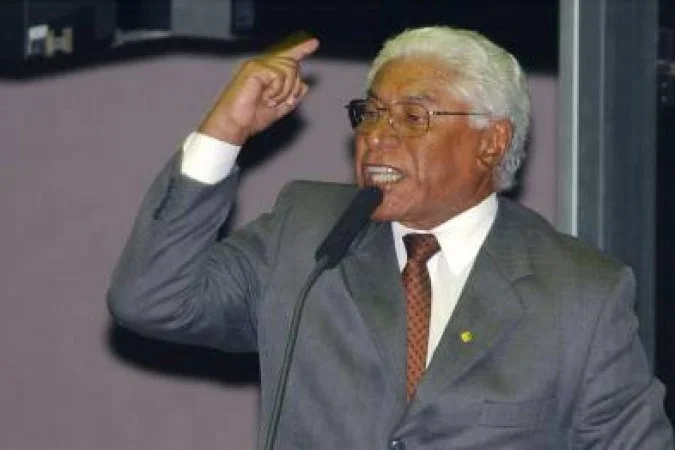Nossos objetivos na 2ª edição
Confira as metas da segunda edição do projeto MEMÓRIAS NEGRAS EM VERBETES – Inventário Participativo de Referências Espaciais, Sociais e Simbólicas Projeto realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022.
A segunda edição prevê em suas metas a publicação de mais 50 verbetes, totalizando 100 verbetes no blog até o final desta etapa.
Mobilização da comunidade
Mobilizar pessoas representativas e instituições do movimento negro porto-alegrense para debater o projeto.
Audiodescrição dos conteúdos do site
Nosso projeto agora terá o recursos de audiodescrição, tornando a pesquisa acessível a mais pessoas.
Montar Audiolivro unindo os episódios do Desapaga POA e do Memórias Negras em Verbetes.
Reportagens
Verbetes em destaque
O Príncipe Custódio, figura histórica envolta em mistério, faleceu em Porto Alegre em 1935 e nasceu na África no século XIX. Duas narrativas principais disputam sua origem: uma o vincula à realeza do Benin, atribuindo-lhe importância no batuque e no assentamento do Bará do Mercado, enquanto outra o identifica como filho de um comerciante de escravos africano, chegando a Porto Alegre após disputas familiares. Custódio se destacou na cidade tanto por sua participação nas corridas de cavalos quanto por sua liderança religiosa, sendo reconhecido por sua influência nos cultos africanos e por seu papel de mediador entre a população negra e a elite. Seu legado segue relevante para o movimento negro e para as discussões políticas e religiosas no Rio Grande do Sul.
Príncipe Custódio
Lupicínio Rodrigues, nascido em Porto Alegre em 1914, destacou-se como um dos maiores compositores da música brasileira, conhecido como o mestre da "dor de cotovelo". Desde cedo, transitou pela boemia e pela música, conciliando sua trajetória com uma breve passagem pelo exército e uma vida marcada por empreendedorismo e engajamento social. Suas composições, como Se Acaso Você Chegasse e Nervos de Aço , tornaram-se clássicos, interpretados por grandes nomes da música. Gremista fervoroso, compôs o hino do Grêmio e participou ativamente da cena cultural e política, chegando a disputar uma eleição. Mesmo reconhecidos nacionalmente, episódios de racismo, o que reforçou seu papel na luta pelos direitos da comunidade negra. Faleceu em 1974, deixando um legado imortal na música popular brasileira.
Lupicínio Rodrigues
Tambor – Museu de Percurso do Negro
O Tambor Amarelo, instalado na Praça Brigadeiro Sampaio em 2010, tornou-se um símbolo da presença e trajetória do negro em Porto Alegre, sendo um marco do Museu de Percurso do Negro. Concebido por um coletivo de artistas e griôs, com base em uma pesquisa antropológica de Iosvaldyr Bittencourt, a obra foi desenvolvida em um processo coletivo inspirado em valores civilizatórios africanos. Além de resgatar a memória negra no antigo Largo da Forca, o tambor representa a diversidade cultural afro-brasileira e denuncia a pouca representatividade da cultura africana nos monumentos da capital gaúcha. Hoje, a escultura fortalece a identidade negra e ressoa com imigrantes africanos e latino-americanos que chegam ao Rio Grande do Sul. O trabalho dos artistas e griôs envolvidos reforça a importância da arte coletiva e da ancestralidade na construção da memória urbana. Mais do que um monumento, o Tambor Amarelo é um convite ao reconhecimento e à valorização da história negra na cidade.
Pelópidas Thebano Ondemar Parente (1934-2022) foi um renomado artista plástico, desenhista e figurinista de Porto Alegre, destacando-se na arte afrocentrada e no carnaval da cidade. Servidor público por décadas, contribuiu com projetos arquitetônicos e participou da concepção do Aeromóvel. Suas obras abordam a diáspora africana e a identidade negra, refletindo sobre a influência cultural afro-brasileira. Foi um dos idealizadores da Frente Negra de Arte e autor de marcos visuais do Museu de Percurso do Negro, como o Tambor Amarelo. Seu legado é reconhecido em diversas exposições e premiações, consolidando-o como uma referência na arte negra no Rio Grande do Sul.
Pelópidas Thebano
Wilson Tibério (1916-2005), conhecido como Tibério, foi um artista afro-brasileiro engajado no debate antirracista e colonialista do século XX. Natural de Porto Alegre, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou na Escola Nacional de Belas Artes, destacando-se por sua arte voltada à vivência da população negra. Em 1947, emigrou para a França, viajando por diversos países e se aproximando do movimento Négritude. Sua produção artística denunciava o colonialismo e exaltava a diáspora africana, com obras que hoje integram acervos como a Pinacoteca Ruben Berta, a UFRGS e o Museu Afro Brasil.
Wilson Tibério
A Ilhota era uma pequena porção de terra na Cidade Baixa, Porto Alegre, formada pelo meandro do Arroio Dilúvio e delimitada pelas atuais avenidas Getúlio Vargas e Érico Veríssimo. Surgida em 1905, tornou-se um núcleo habitado por uma população majoritariamente negra e de baixa renda, conhecida por sua forte tradição boêmia e carnavalesca, sendo berço do samba e lar de Lupicínio Rodrigues. Com a canalização do Arroio Dilúvio após a enchente de 1941, a área foi alvo de interesse imobiliário e sofreu uma brutal remoção populacional no final da década de 1960, deslocando muitos moradores para a Restinga, então uma periferia sem infraestrutura adequada.
Ilhota
Durante o século XIX, os Campos da Redenção, inicialmente uma grande várzea alagadiça fora da cidade de Porto Alegre, foram um importante local para celebrações culturais e religiosas da população negra, como o Candombe da Mãe Rita e outros batuques, realizados com tambores e danças. Esses festejos, mencionados por cronistas da cidade, ocorreram especialmente na área ao redor da atual rua Avaí e nas proximidades da Capelinha do Bom Fim. Em 1884, a Várzea foi oficialmente renomeada para Campos da Redenção para comemorar a libertação dos escravizados em Porto Alegre, embora a abolição tenha sido limitada e parcial, com muitos negros ainda vivendo como libertos ou escravizados. A nova denominação refletia o legado da resistência e presença cultural dos negros na cidade.
Campos da Redenção
Dario de Bittencourt, nascido em 1901, foi um importante advogado, educador e ativista negro, com uma trajetória marcada pela luta contra o preconceito racial e pela valorização das tradições culturais negras. Criado por seu avô após a morte do pai, Dario teve uma educação privilegiada, estudando em instituições renomadas e se graduando em Direito pela Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Ao longo de sua vida, foi membro ativo de diversas organizações negras, como a Sociedade Beneficente Floresta Aurora e o Grêmio Náutico Marcílio Dias, e participou ativamente do jornal O Exemplo, que combatia o racismo. Além disso, Dario se envolveu com religiões de matriz africana, defendendo a aceitação do Candomblé como religião legítima. Em sua carreira acadêmica, foi professor catedrático de Direito Internacional Privado na Universidade do Rio Grande do Sul e se aposentou em 1957, mantendo seu compromisso com a luta contra a discriminação racial até sua morte.
Dario de Bittencourt
Em 2 de julho de 1949, a Folha da Tarde fez um convite aberto aos homens de cor de Porto Alegre para a fundação de um clube náutico, inicialmente chamado José do Patrocínio, mas que recebeu o nome de Marcílio Dias, em homenagem ao intelectual negro. O Clube foi criado com o objetivo de proporcionar aos jovens negros o acesso a esportes como remo e natação, atividades que eram negadas pelos clubes brancos da cidade. Fundado em 4 de julho de 1949, o clube teve como principais articuladores figuras como João Nunes de Oliveira e Armando Hipólito dos Santos. Em 1950, abriu oficialmente sua sede na Avenida Praia de Belas, sendo um ponto de encontro para festas e eventos importantes da comunidade negra local. Na década de 1960, o clube lançou o jornal Ébano, e embora tenha enfrentado dificuldades com sua sede, incluindo a construção de um ginásio destruído por ventos fortes, o clube seguiu promovendo atividades até seu fechamento na década de 1970.
Clube Náutico Marcílio Dias
A área do atual bairro Mont'Serrat, até meados do século XX e talvez até as décadas de 1980/90, era conhecida como a Bacia do Mont'Serrat, um território predominantemente negro com registros desde o início do século XX. O bairro teve sua origem marcada pela presença de famílias negras, com destaque para a Rua Arthur Rocha, nomeada em homenagem ao dramaturgo negro Arthur Rodrigues da Rocha. A Bacia do Mont'Serrat foi uma área de forte religiosidade, com várias casas de batuque e terreiros de matriz africana, e se tornou um ponto de encontro de trabalho e sociabilidade para as famílias negras da região, com destaque para atividades como a lavagem de roupas e o trabalho de costureiras. Além disso, o bairro foi berço de tradições culturais como blocos de carnaval e piqueniques dominicais. No entanto, com o processo de urbanização e transformação social, o antigo território negro se perdeu, embora ainda resista uma presença negra na região.
Bacia do Mont'Serrat